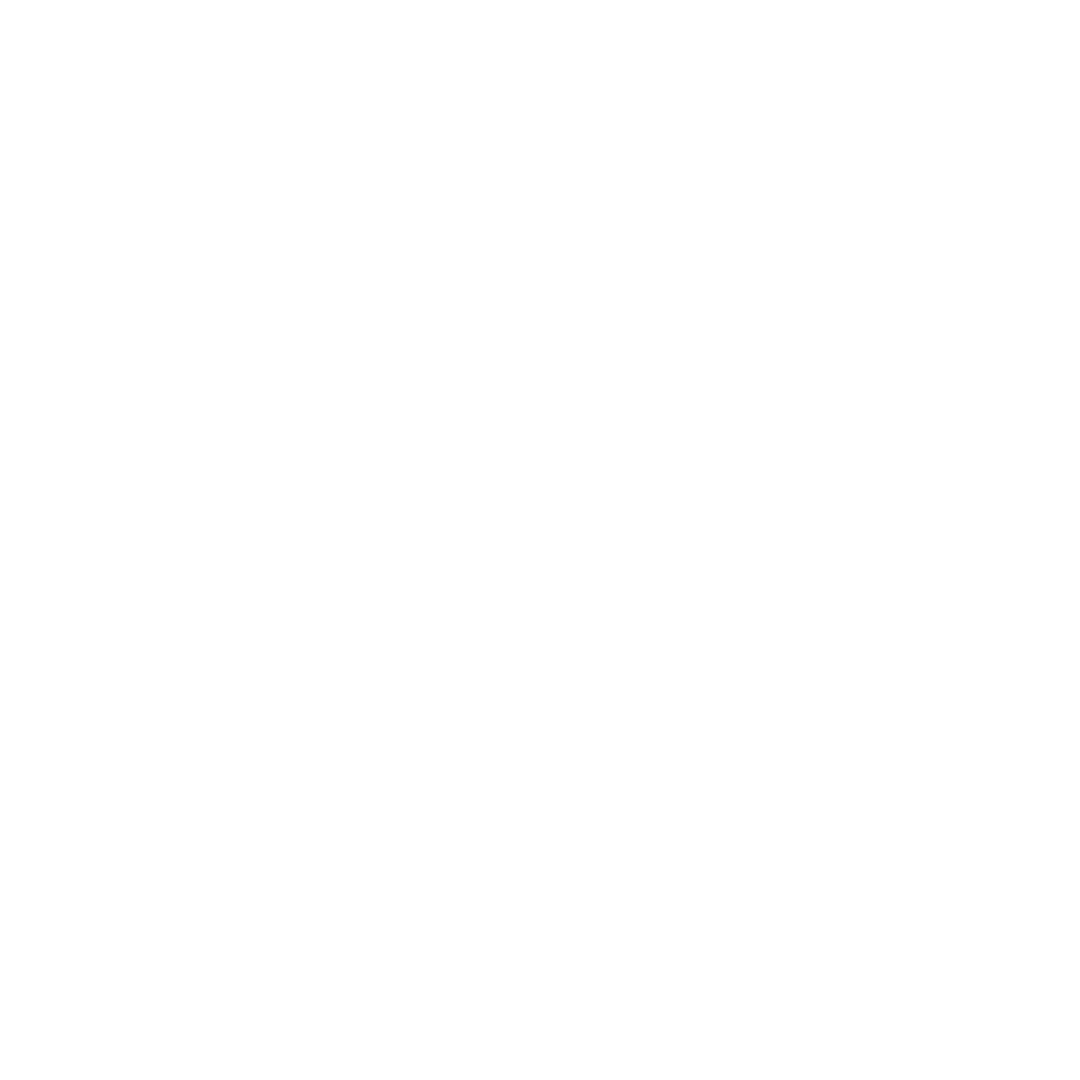[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″]
Diante uma situação séria e nada leve, como é o caso do preconceito racial – ainda mais nos Estados Unidos – há quem prefira tratar com humor, porém ainda passando um ensinamento importante sobre solidariedade e humanidade. Spike Lee é um exemplo disso, principalmente com sua última obra, Infiltrado na Klan (2018), na qual o racismo e o preconceito foi tratado com o humor ácido do cineasta.
Depois de Lee, agora foi a vez de Peter Farrelly tratar do mesmo assunto e também com toque de humor. Porém, por mais que a filmografia de Farrelly demonstrasse o que estava por vir em Green Book, o resultado acabou sendo leve até demais.
Marcado por comédias como Passe Livre (2011) e Debi & Lóide 2 (2014), o cineasta tratou de repetir a fórmula do clássico Conduzindo Miss Daisy (1989) para uma road trip divertida, mas ainda assim reflexiva. Por isso, não há segredo quanto ao desenvolvimento da trama e Farrely consegue trabalhar bem todo o caminhar e a relação entre Tony Lip (Viggo Mortensen) e Don Shirley (Mahershala Ali).
Apesar de exagerados momentos dramáticos e roteiro expositivo, a proposta de Farrely entrega um bom trabalho, no entanto, é impossível descartar as ressalvas.
Por mais que a leveza do diretor seja bem feita, há diversos momentos em que o roteiro duvida do espectador para tornar o claro em óbvio, como dito anteriormente. Farrely insiste algumas vezes em expor uma cena, sendo que a direção ou o roteiro já havia trabalhado. Isso diminui ainda mais o poder que o filme tem sobre o tema e toda a interação entre Mortensen e Ali. A direção também não escapa disso quando Farrely quer trabalhar um tom mais dramático.
Por falta de experiência no gênero, o americano exagera no uso da trilha sonora e da ambientação, sem deixar seu próprio filme falar por si ao espectador. As situações mostradas já são, por si só, dramáticas, e o diretor aparenta ou não confiar no público ou não confiar no que ele mesmo está mostrando.
Por sua vez, os erros técnicos não tiram o mérito da bela história real que Farrely decidiu contar. A trajetória do pianista Don Shirley como um músico negro realizando uma tour pelo sul dos Estados Unidos em pleno anos 60 é forte o suficiente para ensinar. A própria explicação da escolha do músico ao fazer isso, relacionada a tentativa de transmitir compaixão para os ignorantes é um dos poderes do longa. E claro, o próprio nome do filme, remetente a um guia da época, feito com sugestões de hotéis e restaurantes nos quais só os negros podiam desfrutar.
O verdadeiro poder, então, está na interação de Mortensen e Ali, que, por mais inesperada que seja a dupla, funcionou perfeitamente em tela.
Mortensen como um italiano ignorante e bonachão combina com o tom mais refinado e educado de Ali. E os dois conseguem embarcar no personagem de forma perfeita e suas diferenças os completam durante as oito semanas juntos. Todo o perfil mais preconceituoso do personagem de Mortensen é o que dá o verdadeiro tom cômico do filme, devido as situações que ele faz Ali passar, mas há também toda a realidade da época em si.
Seu forçado sotaque italiano é outro ponto crucial para o humor encantar o espectador e fazer a trama ser ainda mais agradável. Shirley, no entanto, não ganha esse humor mais forte, até por sua personalidade e ideologia. Seus momentos engraçados se dão justamente pelas situações vividas com o companheiro. E essa relação, mesmo que aos poucos vá melhorando – devido a mudança de olhar de Mortensen sobre o músico – ela não é 100% realizada.
O que, particularmente, torna tudo mais real e interessante, afinal, anos de preconceito e visão sobre determinadas pessoas não mudam rapidamente em oito semanas. Essa escolha de Farrely não é tão clara em tela, até para manter seu final feliz de contos de fada, porém, só por ela estar presente de forma indireta, já deixa um tom real não tão explorado no resto do filme.
Longe do filme ser todo ficção, até pela presença clara do preconceito e momentos de pura ignorância. No entanto, da mesma forma que Bohemian Rhapsody (2018) diminui os pontos problemáticos de Freddie Mercury, Farrely também deixa o cenário mais leve e não mostra um preconceito mais duro, como é mostrado no já citado Infiltrado na Klan.
A escolha funciona em grande parte da jornada, mas deixando resquícios de fraqueza em alguns pontos, como durante uma revelação importante sobre Shirley, mas que não ganha holofotes, sendo que, a revelação em si, mostra ainda mais da personalidade e das ideologias do personagem. Entretanto, é jogado fora, como se não tivesse acontecido.
Por isso, Green Book não se provou forte o suficiente como obra cinematográfica, apesar de todas as suas cinco indicações ao Oscar, mas sim, uma obra de personagens. A improvável dupla leva o filme nas costas e dão a verdadeira força que Green Book precisava ter – fazendo com que as indicações para Mortensen e Ali sejam perfeitamente justificáveis.
No fim, a proposta de leveza da trama não faz jus a difícil, mas ainda divertida, jornada de Tony Lip e Don Shirley. Ela funciona, mas está longe de tratar com fidelidade o preconceituoso Estados Unidos sulista dos anos 60, talvez pela falta de experiência de Farrely no gênero ou historicamente.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]